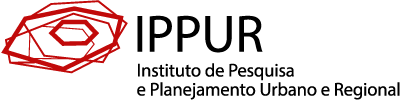A produção da natureza e o coronavírus
Boletim nº 18 – 30 de abril de 2020
Por Maurilio Botelho¹ e Guilherme Chalo²
Na história podemos observar momentos onde grandes epidemias tiveram papel central na reorganização das sociedades. Seja causando um impacto populacional, como a peste na Europa medieval; seja provocando mudanças na organização urbana e na própria forma de compreensão espacial das doenças, como o caso do cólera em Londres, onde John Snow deu os primeiros passos da epidemiologia descritiva ao mapear os poços onde era captada água que estava contaminada.
Na sociedade moderna, cada época parece criar o seu inimigo biológico: no início do século XX, a gripe espanhola surgiu em um mundo em guerra; nas últimas décadas do século XX, a AIDS explodiu com impactos sociais graves e estigmas que permanecem até hoje; no século XXI, é a vez de doenças de alto poder de transmissão como a Gripe Aviária (H5N1), a Síndrome Respiratória Aguda (SARS) e a Gripe H1N1 (UJVANI, 2011; GOULART, 2005).
No final do ano passado, em Hubei, na China, na populosa cidade de Wuhan, capital da província — cidade sede de indústrias automobilísticas –, surgiram casos de uma grave doença respiratória de origem desconhecida, que posteriormente seria identificada como um novo Coronavírus (2019-nCoV), uma mutação do vírus da SARS que castigou o sudeste da Ásia em 2003 e se espalhou pelo mundo.
Não se trata de história que se repete como em outras épocas: na sociedade moderna as grandes epidemias foram determinadas por fatores sociais, econômicos e políticos em um longo processo de produção da natureza (SMITH,1988), o que acabou por legitimar práticas de controle sobre o espaço e revelou as mazelas sanitárias da sociedade produtora de mercadorias [1].
O ambiente urbano altamente aglomerado construído pela sociedade capitalista se tornou propício ao desenvolvimento de doenças e principalmente de epidemias. Mas isso não é suficiente para dar conta das possibilidades epidêmicas da modernidade. A ideia de que a sociedade urbana agora recebe ameaças externas de reservatórios naturais intocados é uma imagem falsa não apenas pela inversão da lógica de domínio sobre a natureza, mas também por seu dualismo. É verdade que cada vez mais biomas remanescentes estão sendo reduzidos diante de uma urbanização desenfreada que avança na África Central, na Ásia ou na Amazônia. Mais do que uma natureza externa ameaçando a sociedade, o que se trata é que a sociedade capitalista produziu uma natureza que lhe é própria e, por isso, a imagem do “externo” é mera projeção ideológica para autolegimitação e transferência de responsabilidade. A sociedade moderna não transforma ou modifica a natureza, mas produz uma natureza com qualidades que são inerentes à sua lógica fetichista.
Ainda que a China esteja à procura do “paciente zero” que contraiu o coronavírus provavelmente no contato ou se alimentando de um animal silvestre, isso não pode encaminhar à interpretação simplória de uma relação entre universos estranhos que desestabilizou a saúde humana. A maior parte das cada vez mais comuns epidemias e pandemias modernas são provenientes do ambiente urbano que proporciona a proliferação e a mutação de vírus, bactérias e parasitas. Mais do que isso: a própria indústria moderna, principalmente através da agricultura em grande escala, tem sido a fonte inesgotável e incontrolável de produção de monstros epidêmicos. É a agroindústria com sua técnica extremamente avançada que tem produzido a natureza sempre idêntica das grandes produções monocultoras: um ambiente favorável ao desenvolvimento de pragas.
No exato momento em que o coronavírus prende a atenção internacional, uma tempestade de gafanhotos devora plantações na África Oriental e coloca em risco a alimentação de milhões de pessoas – uma situação definida como “sem precedentes” e “extremamente alarmante” pela FAO, principalmente por atingir países cronicamente assolados pela miséria e fome (Etiópia, Quênia, Somália etc.) . Os “holocaustos coloniais” (DAVIS, 2002), já secularmente conhecidos através da expansão imperialista europeia sobre a África, agora se somam à disseminação do coronavírus como resultado das conexões cada vez mais profundas desses territórios precariamente exportadores de commodities com a economia chinesa.
Além disso, é a pecuária industrializada o barril mais explosivo da produção social de uma natureza catastrófica: as imensas fazendas de aves, porcos e bois formam o ambiente mais fértil para a rápida proliferação de organismos letais, não apenas pela aglomeração assustadora do gado confinado, mas pelas suas possiblidades de mutação e contato regular com fezes e fluídos. Tornou-se conhecida a recente empresa chinesa com 100 mil vacas leiteiras, entrando para o mesmo rol das assustadoras fazendas texanas que agrupam até 500 mil cabeças de gado bovino para alimentar a indústria de fast food. Nesses locais, o gado não pasta, mas permanece estático, apertado, sobre as próprias fezes. As criações de aves são ainda mais repulsivas porque amontoam gaiolas sobre gaiolas: as aves defecam umas sobre as outras.
Essa combinação bizarra não é apenas uma transformação exterior da natureza, mera aglomeração e redução da riqueza natural que estava dispersa. A própria natureza das espécies está sendo alterada pela indústria moderna. Não é preciso aqui falar dos organismos geneticamente modificados – exemplo claro e mais avançado da produção de uma nova natureza pela lógica da indústria cientificizada ao extremo. Aves que há milênios se alimentam de grãos ou insetos agora são engordadas com rações industrializadas, muitas vezes produzidas com seus próprios filhotes – na indústria de ovos, por exemplo, pintos machos são triturados para se transformar em ração. No complexo industrial da pecuária bovina, os rejeitos dos matadouros são convertidos em massa para a ração. Essa lógica infernal desenvolvida pela indústria produz “monstros”: já se sabe que a vaca louca é um resultado da transformação de um animal herbívoro em carnívoro. Também no momento em que a covid-19 assolava a China, Alemanha e Filipinas, casos da gripe aviária foram registrados em fazendas desses países, resultando no abate de milhares de aves. Aqui se espreita uma das maiores ameaças já anunciadas pelos epidemiologistas: a possibilidade de um surto global de gripe aviária, cuja taxa de letalidade é elevadíssima, dez vezes maior que o atual coronavírus.
Essas condições sanitárias, evidentemente, não aparecem para o consumidor final, que recebe em casa a peça de carne limpa e suculenta, vermelha e conservada com aditivos. Temos nisso uma das faces já clássicas da produção de mercadorias: o mundo clean dos mercados não apenas esconde o inferno do mundo do trabalho, mas levanta uma fachada que deixa por trás a violência contra os animais, a proliferação de pestes e pragas e a violação de códigos genéticos.
Some-se a essas condições produzidas pela economia capitalista as possibilidades de difusão já existentes, não apenas por parte dos meios de transporte e circulação de mercadorias, mas pelas próprias espécies. As fazendas intensivas de produção de boi, porcos e aves não estão isoladas sanitariamente, por mais cuidados que apresentem nesse sentido. Aves migratórias podem pousar e se alimentar nesses ambientes, deslocando-se depois milhares de quilômetros e levando os patógenos mortais. É esse o perigo de uma pandemia de gripe aviária, provavelmente também esse é o ciclo inicial de alguns tipos de coronavírus decorrentes do contato de morcegos com rebanhos. Espécies de mosquitos podem reforçar ainda mais essa cadeia de contatos, como o aedes aegypti ou o culex, responsável pela difusão na América da febre do Nilo Ocidental. Ainda há um elemento a mais nessa cadeia que são os efeitos do aquecimento global. A proliferação de moléstias tipicamente tropicais em regiões temperadas é um exemplo: o zika já se difundiu por metade do território dos EUA e casos de dengue por lá são cada vez mais comuns. Por fim temos a possibilidade de reanimação de organismos mortais guardados sob o gelo que se derrete: ficou famoso o caso de um surto de antraz em 2016, na Sibéria, decorrente do descongelamento de uma carcaça de rena infectada há mais de 75 anos. Aqui a combinação de processos é catastrófica, todos resultando de uma natureza produzida socialmente em que já não há absolutamente nada intocável – recentemente repercutiu mundialmente a informação de que uma nova espécie de crustáceo descoberta nas Fossas Mariana, há milhares de metros no fundo marinho, já estava contaminada por plásticos e radioatividade.
E é disso que se trata: a visão de uma natureza transformada pelo homem não ajuda muito na compreensão da dinâmica social ecologicamente catastrófica, porque ela se prende apenas à forma modificada de conteúdos naturais. A indústria, a tecnologia e a ciência capitalista não apenas modificam a natureza em termos formais, elas produzem conteúdos novos decorrentes da reelaboração de materiais nos níveis mais básicos, desde a composição química, passando pelo código genético até a profundeza dos átomos. Há muito tempo na teoria se tem a interpretação de que a modificação social produz uma “segunda natureza”, formada pelo homem. A origem aqui está na interpretação marxista da história, que teria demonstrado como a ação social domina a natureza e a transforma segundo uma vontade consciente. Essa interpretação é simplificada e, no limite, esbarra na própria concepção burguesa de um domínio da natureza pelo homem. O capitalismo não modifica a natureza como mera matéria-prima para seus processos produtivos: a forma mercadoria transformou todo o mundo natural a ponto de criar uma natureza que lhe convém. A “produção da natureza” (SMITH, 1988) é a base ecológica e social para o desenvolvimento do capitalismo. A “segunda natureza” de Marx não é mera modificação de um universo externo: é a demonstração de que erguemos de modo inconsciente e fetichista, forças que são incontroláveis. Ao produzir uma natureza pelos critérios da forma da mercadoria e do capital, produzimos uma natureza que também é incontrolável, forçamos a elaboração de “todo um círculo de vínculos naturais de caráter social, incontroláveis pelas pessoas atuantes” (MARX, p.99, 1985). O aquecimento global, a peste e a praga não são respostas da natureza ao homem, não são reflexos de uma destruição da natureza original – a natureza catastrófica da natureza é um resultado da natureza socialmente destrutiva do capitalismo.
¹Professor de Geografia Urbana da UFRRJ.
²Doutorando do IPPUR.
Referências
DAVIS, Mike. Holocaustos coloniais: Clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro: Record, 2002.
GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12, n. 1, p. 101-42, jan.-abr. 2005.
MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política (livro I – O processo de produção do capital. Nova Cultural: São Paulo, 1985.
SMITH, Neil. Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.
UJVARI, S. C. Pandemias: a humanidade em risco. São Paulo: Contexto, 2011.
Notas
1. “A classificação de um estado como doença não é um processo socialmente neutro, e, na administração de saúde, torna-se uma linha tênue entre legitimação e estigma. Ao mesmo tempo, o impacto causado pela doença epidêmica sobre a sociedade podia transformar-se em fator de legitimação da intervenção do governo, por meio de uma legislação que estabeleceria uma forma de controle social, reformulando as relações entre indivíduos e entre indivíduos e as instituições” (GOULART, 2005, p. 105)