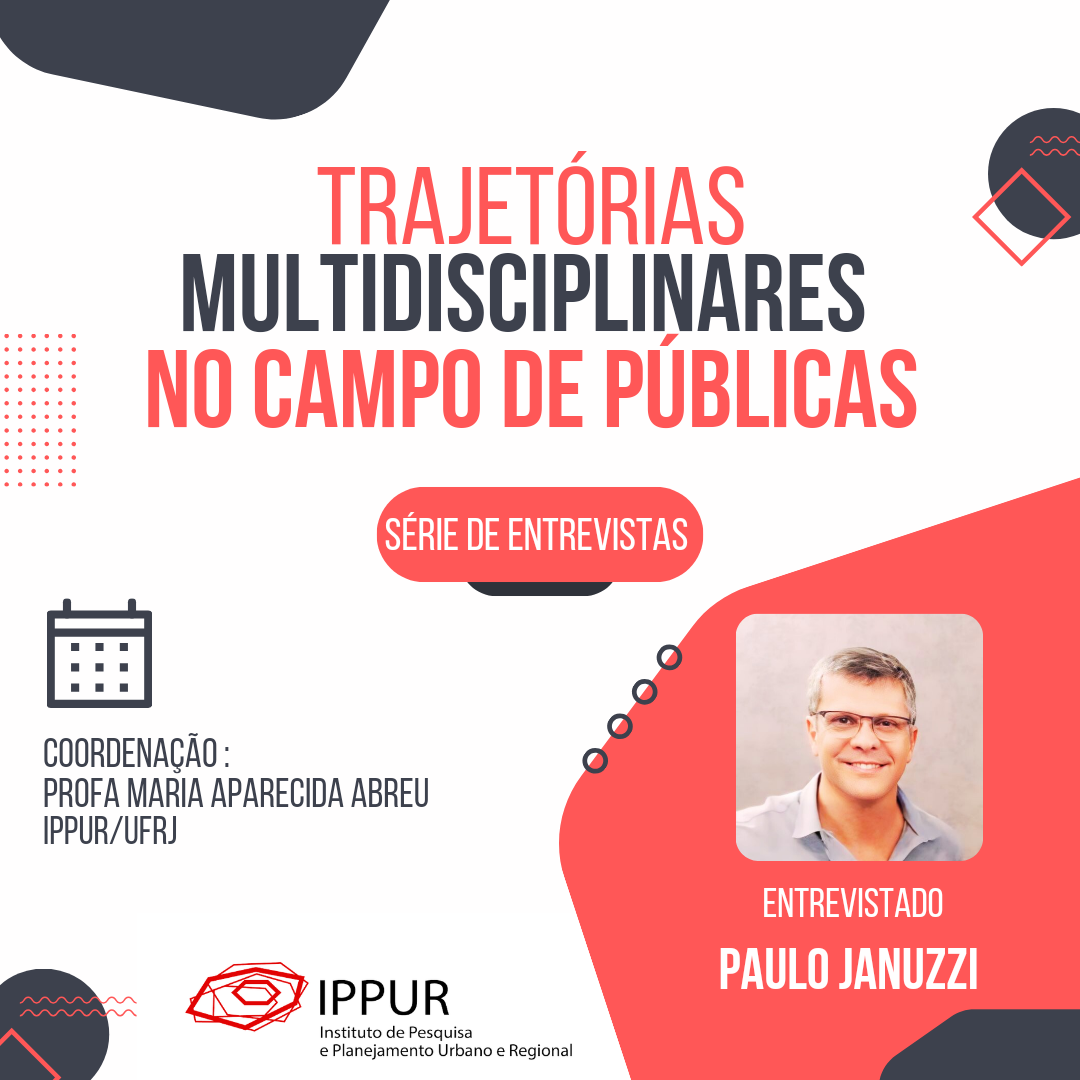
Posts Recentes
>> História e Culturas Urbanas – 11/12/2025 – 18h
Publicado em 05/12/2025
>> Edital UFRJ nº 1025/2025 – Concurso Professor Substituto – GPDES/UFRJ
Publicado em 02/12/2025
>> Defesa de Dissertação de Mestrado – Maria Tereza Aguiar Parreira – 28/11/2025
Publicado em 27/11/2025
>> Defesa de Dissertação de Mestrado – Tainá Farias da Silva Maciel – 25/11/2025
Publicado em 27/11/2025
Trajetórias Profissionais Multidisciplinares no Campo de Públicas: Entrevista com Paulo Jannuzzi
Publicado em 05/06/2024
CATEGORIAS: Agência IPPUR, Boletim IPPUR, Conteúdo Boletim, Destaques
Boletim nº 79, 05 de junho de 2024
Na segunda entrevista da série Trajetórias Profissionais Multidisciplinares no Campo de Públicas, a professora Maria Aparecida Abreu (IPPUR/UFRJ) entrevista Paulo Jannuzzi, Professor e Coordenador Geral da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE), Diretor do Centro de Colaboração Interinstitucional de Inteligência Artificial Aplicada às Politicas Públicas (CIAP/UFG), Pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas (NEPP/UNICAMP) e professor colaborador da da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Jannuzzi conta sobre sua trajetória, desde a escolha do curso de graduação até a atuação profissional e acadêmica atual, expondo as decisões e as experiências que julgou mais relevantes em seu processo de formação. Ele destaca a importância da vivência da Administração Pública em seu cotidiano e do contato com a realidade concreta a partir do seu trabalho com produção e análise de políticas públicas no Ministério do Desenvolvimento Social, debatendo metodologias de análise e a interlocução entre técnica, política e ideologia na produção de informações de cunho social. A entrevista também aborda suas impressões sobre aspectos diferenciais do Campo de Públicas, convidando a aproximação de quem se interesse pela área. Confira a íntegra a seguir!
Maria Abreu (IPPUR): Olá, Paulo, essa entrevista faz parte de uma série mais ampla, sobre a qual já tinha lhe falado, “Trajetórias Multidisciplinares no Campo de Públicas”. É uma série de entrevistas com profissionais considerados referência no Campo de Públicas. O Campo de Públicas é multidisciplinar e você foi escolhido como alguém do campo da Demografia. Você poderia falar um pouco de sua trajetória como professor, pesquisador e profissional atuante no campo das Políticas Públicas?
Paulo Jannuzzi: Bom, eu fui chegando no campo das Políticas Públicas muito por conta da trajetória profissional e, em certa medida, também pelos desdobramentos de pesquisas que vim desenvolvendo nesses últimos 30 anos. Quando fiz um teste vocacional, para saber que curso faria, o teste apontou que eu deveria fazer administração. Mas isso foi em 1979, 1980. Havia pouquíssimos cursos de Administração Pública. Eu tinha uma certa sensibilidade para as discussões de conjuntura política, porque eu tinha três irmãos já na Universidade. Os anos 78, 79 e 80 foram anos de muita movimentação política nas Universidades, também. Então, eu lia os jornais, os jornaizinhos que eles traziam, ficava empolgado com aquilo. Acabei fazendo Economia. Eu morava em Campinas, fiz Economia na Unicamp, também comecei a fazer Engenharia na PUC. Fiquei fazendo os dois cursos durante dois anos, porque era um curso de Engenharia Ambiental. E, no terceiro ano, eu assisti uma palestra que me atraiu muito. O tema daquela palestra poderia ser considerado equivalente ao que é Ciência de Dados hoje. Descobri que não queria nem uma, nem outra, mas Matemática Aplicada e Computacional. Digo isso apenas para mostrar como, no fundo, às vezes a gente tem muita dificuldade mesmo de definir qual é o campo que queremos e descobre muito tempo mais tarde. Então eu acabei entrando em Matemática Aplicada Computacional, porque também gostava muito de computador, tinha uma certa facilidade com matemática, com programação, porque programava joguinho, essas coisas. Acabei fazendo meus créditos eletivos, parte na Economia, parte na Estatística, e depois um projeto de Iniciação Científica de crescimento populacional. Essas escolhas me remeteram ao Núcleo de Estudos de População – NEPO, que estava se formando naquela época, em 1984/85. Foi lá onde eu conheci quem seria a minha orientadora de doutorado, Neide Patarra. Diria que, no final da minha graduação, já estava percebendo que novamente os temas de política estavam me chamando a atenção. O fato é que eu acabei a graduação e tive a oportunidade de ir para o Maranhão assumir um cargo de Analista de Sistemas de uma multinacional de informática, Burroughs, que depois virou Unisys. Eu fiquei quatro anos lá trabalhando com informática, desenvolvimento de sistemas e descobri também que não era isso. Naqueles anos vivíamos o momento da redemocratização e um debate eleitoral com a disputa entre Collor e Lula. Era a primeira vez que eu ia votar para presidente.
Esse contexto me motivou a fazer o mestrado em “Administração Pública”. A partir do exame da Anpad, fiz entrevistas na UnB, e em São Paulo, na FGV. Fui para Brasília. Acabei optando por ficar em São Paulo, pois tinha família e eu já tinha me casado. Era mais fácil ficando mesmo em São Paulo. E aí fiz o Mestrado em Administração Pública e Governo, do qual gostei muito, porque me levou a fazer um conjunto de leituras que eu nunca tinha tido oportunidade de fazer. Tive aula com a Regina Pacheco, com a Marta Farah, com o Celso Daniel também. Ele me marcou muito, porque ele era alguém preocupado com pensar a economia política e o pragmatismo na administração na prefeitura. Ele já era prefeito [de Santo André] e tinha que ficar se dividindo, mas ele gostava de dar aula. E aquele Mestrado foi muito bom, porque também tive aula com Maria Rita Loureiro e com o meu próprio orientador Ruben Cesar Keinert. Era um momento da discussão clássica sobre Estado mínimo x Estado de bem-estar social. Fui apresentado a essas questões a partir da literatura sobre o tema e gostei muito. Nessas leituras tínhamos algumas respostas; a experiência europeia que eu desconhecia, a discussão política muito intensa em sala de aula com alunos e vários professores. Havia ali na FGV professores com uma visão política progressista. Foi no mestrado que eu tive a primeira experiência formal de leituras e reflexões sobre políticas públicas.
Ter saído de emprego seguro em uma multinacional de Informática foi uma decisão acertada. Fiz a escolha certa, embora, fosse muito difícil viver naqueles tempos, em 1990/91. O valor da bolsa era baixo para uma vida de casal com filha, não era reajustado e a inflação voltara a crescer, depois dos primeiros meses do Governo Collor. Ademais, o plano Collor havia confiscado, por anos, os recursos de venda de um apartamento em São Luís. Foi uma vivência complicada naquele período, e aí, felizmente, consegui, por indicação de um amigo meu, começar a dar aula na PUC de Campinas, e isso acabou atrasando meu Mestrado, que foi defendido apenas em 1994.
Maria Abreu (IPPUR): Nessa primeira experiência como professor na PUC Campinas, você era professor de quais disciplinas?
Paulo Jannuzzi: Eu dava aula de Introdução ao Marketing. Um colega que estava com carga horária pesada na PUC me convidou para dar aulas, e eu assumi com a cara e a coragem. Achei interessante, porque fui entender um pouco melhor a pesquisa de mercado, uso da informação, o desenho de produtos na escolha de locais de instalação, de pontos do varejo. Enfim, aprendi certos conceitos que, instrumentalmente, até apliquei no setor público. Parte das discussões que tinha com alunos acerca de fontes de dados e pesquisas de mercado me ajudaram a escrever o livro Indicadores Sociais no Brasil.
Ter passado por vários cursos de graduação, emprego na Informática e professor de Marketing revela uma trajetória pouco linear, mais tortuosa do que talvez eu tivesse planejado. Foi o preço a pagar de ter feito escolhas, talvez, voluntaristas. De certa forma, filhos de classe média podiam fazer essas escolhas e fazer correções de rumo, algo que muita gente não tem oportunidade ou condições de fazer.
Maria Abreu (IPPUR): De qualquer forma, você teve que dar aula de introdução ao Marketing enquanto fazia Mestrado, porque você já era casado, já tinha as suas responsabilidades e por aí afora.
Paulo Jannuzzi: Sim. E levei tempo para defender o mestrado. Por ter trabalhado numa multinacional de informática, meu primeiro tema da dissertação era relacionado à Política Nacional de Informática. Antes de defender a dissertação, entrei no doutorado em Demografia, na primeira turma da Unicamp, Era uma área que eu conhecia um pouco, o que foi bom, porque conciliou a preocupação com a continuidade entre os temas de políticas públicas e a minha formação quantitativa. Digo isso porque, para mim, meu Mestrado foi uma coisa absolutamente nova. Meu doutorado me deu segurança tanto como professor, quanto como pesquisador, porque eu não me identificava mais como um matemático ou como uma pessoa da área de TI. Tampouco podia me classificar como alguém em políticas públicas. Então, a demografia me concedeu o pertencimento de uma categoria profissional que precisava, a de demógrafo. Essa formação contribuiu para que, em 1994, eu fizesse o concurso para analista de projetos socioeconômicos da Fundação Seade – Sistema Estadual de Análise de Dados. O concurso do Seade foi um forte estímulo para que eu finalizasse a dissertação de mestrado, para que pudesse ingressar no cargo. No Seade tive a experiência de trabalho multidisciplinar, porque trabalhava com sociólogos, estatísticos, demógrafos, muita gente fazendo análise de dados, produzindo textos, análises descritivas a partir de pesquisas de condições de vida. Acho que aquele foi um momento grandioso da Fundação Seade, porque havia as pesquisas de emprego e desemprego e de condições de vida, que tinham forte relação com o Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Havia gente muito boa ali nas discussões. Havia uma relação profícua com o Instituto de Economia da Unicamp, com o qual eu também tinha alguma relação, porque estava fazendo o doutorado em demografia. Então, foi learning by doing.
Eu terminei meu doutorado em 1998. Continuava dando aula na PUC em Campinas e viajando todo dia para São Paulo. Em 2000, surgiu uma oportunidade de uma bolsa da Fundação Ford, na ENCE – Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Minha orientadora de doutorado, a Neide Patarra, me convidou para me candidatar. Ela via ali uma possibilidade, quem sabe, de trabalhar na escola do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pedi licença no Seade, fiquei com a PUC e semanalmente eu vinha de ônibus para o Rio, e voltava. Gostei da Escola, tanto que quando surgiu o concurso para professor, em 2002, me inscrevi. Em setembro, eu pude de fato assumir na Escola, me desliguei totalmente do Seade e continuei com algumas horas na PUC de Campinas. Depois, enfim, acabei tendo que me desligar nos anos seguintes da PUC de Campinas, porque ficava muito difícil ir e voltar para o Rio semanalmente.
Tive, então, uma oportunidade na Fundação Seade em 2006. A então diretora, Felícia Madeira, tinha assumido o Seade e era uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado na instituição. Ela acabou me convidando para trabalhar na Assessoria, quase depois de quatro anos da minha saída. Foi muito interessante, porque comecei a trabalhar nas políticas de qualificação profissional, caravana do trabalho, em que eram feitos diagnósticos de demandas de cursos para todas as microrregiões do estado.
Trabalhei muito com pessoas da área de mercado de trabalho e junto com a SERT – Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho. Íamos inclusive para as cidades médias de São Paulo, fazer oficinas de levantamento de demandas, de cursos de qualificação profissional. Um projeto muito legal, com a Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, que ficava lá na USP, e depois foi extinta. Também havia uma parceria com a FUNDAP – Fundação do Desenvolvimento Administrativo, também extinta. É importante apontar essas parcerias porque, naquela época, São Paulo tinha um conjunto de instituições de pesquisa muito fortes.
Em 2010 eu tive que voltar para o Rio e, no começo de 2011, fui convidado pelo Rômulo Paes para assumir a SAGI – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. O Rômulo me conhecia porque eu tinha participado de bancas com ele, e já havia lançado o livro Indicadores Sociais do Brasil. Eu já tinha dado algumas palestras e aulas para alunos do MDS. Rômulo foi o criador da SAGI e atuou como secretário entre 2004 e 2007 e voltou em 2011 como Secretário Executivo da ministra Teresa Campelo. Como Secretário Executivo, me disse: “Paulo, você pode nos ajudar aqui, porque você é do IBGE, conhece muito indicadores sociais, e realmente precisamos fortalecer, na Secretaria de Avaliação do MDS, a Área de Monitoramento. Já temos experiência na encomenda e na análise das avaliações. Temos a área de gestão da informação – cujo responsável era o Caio Nakashima. Tem muita experiência em tecnologia da informação, mas entre a informação e avaliação está faltando o monitoramento e a construção de indicadores”. Foi assim que eu acabei entrando, sendo convidado a trabalhar lá no MDS. Aprendi muito lá também, como no Seade. Novamente, uma inserção do learning by doing em políticas públicas, lendo e aprendendo sobre as políticas e o desenvolvimento social, nas quatro áreas de políticas do ministério.
Maria Abreu (IPPUR): E quais são essas quatro áreas?
Paulo Jannuzzi: A área da assistência social, que possui uma cultura mais orgânica de base e muitos quadros vindo dos municípios ou dos estados para Brasília: uma cultura orgânica mesmo, de políticas públicas de pactuação, o que era muito novo para mim. Meu curso de Administração Pública tinha ficado lá atrás; não havia tratado de participação social e pactuação federativa. A segunda área, de transferência de renda, de natureza mais top-down: o Bolsa Família, outra cultura. A terceira, a área de segurança alimentar, com uma cultura mais de movimento social, e menos estruturada lá na ponta, menos estruturada também em Brasília. Atualmente, ainda não constituiu um sistema plenamente constituído: o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, ainda não conseguiu se estabelecer, tal como outros, SUAS ou SUS. E a área de inclusão produtiva, que era a quarta área de políticas públicas do MDS, a de mais difícil estruturação, porque era uma área muito disputada, com todos os outros ministérios, sobretudo o Ministério do Trabalho. O Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério do Desenvolvimento Agrário também apresentavam iniciativas no campo da inclusão produtiva urbana e rural. Foi sempre uma área menos desenvolvida institucionalmente. Tanto que, em junho de 2011, a estrutura do que era a antiga Secretaria de Articulação de parcerias para Inclusão Produtiva – SAIP acabou abrindo espaço para a Secretaria do Brasil Sem Miséria. Diria que, ao mesmo tempo, era uma Secretaria de gestão do Brasil Sem Miséria, mas também de articulação de inclusão produtiva, se valendo dos outros ministérios, seja no urbano ou no rural. No fundo, a área de inclusão produtiva acabou se consolidando como política dentro do MDS nesse período.
Nesse conjunto de políticas, eu e a equipe da SAGI tivemos que aprender, na prática, a implementação de programas e arranjos operacionais ao mesmo tempo. De fato, aprofundei muito a reflexão sobre a avaliação de programas lá. Eu já estava dando aulas sobre métodos de pesquisa aplicados à avaliação de programas na Escola Nacional de Administração Pública – ENAP nesse período, mas foi no MDS que eu tive que aprofundar leituras sobre políticas sociais e sobre avaliação de programas. Foi então uma nova aproximação, que se deu até 2016. A equipe lá na SAGI era uma equipe muito boa, pequena, jovem e motivada. Foram muitos aprendizados sobre como produzir informação que, de fato, poderiam ser úteis para a gestão. Aprendi muito na relação do MDS com o IBGE. Então veio o Golpe, em 2016.
Maria Abreu (IPPUR): Em uma conversa anterior a esta entrevista, você chegou a mencionar alguns embates – vamos sair aqui do roteiro – que existiam a respeito da avaliação de políticas públicas e que isso tem um impacto sensível em sua percepção profissional.
Paulo Jannuzzi: Por ter feito demografia e ser professor na ENCE eu dava aulas de Metodologia da Pesquisa Social e de Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas. Eram disciplinas em que eu discutia muito os métodos de pesquisa, apontando a potencialidade e limitações das várias metodologias. Para mim foi muito surpreendente constatar que, na avaliação, havia uma grande disputa ou uma grande pressão, sobretudo dos organismos internacionais de fomento, para uso preferencial dos métodos experimentais ou quasi-experimentais nas avaliações dos programas do MDS, de segurança alimentar, do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e, naturalmente, do Bolsa Família.
Maria Abreu (IPPUR): Você poderia explicar essa observação de forma mais didática? O que seria essa avaliação experimental e quasi-experimental?
Paulo Jannuzzi: A comunidade dos randomistas, muito presente no campo da avaliação, propõe que a avaliação de programas deveria tentar replicar o modelo de teste de medicamentos ou de vacinas. A ideia que advogam é de que idealmente se deveria separar a população brasileira em 2 grupos, um grupo que receberia benefícios, como Bolsa Família e um grupo que não receberia benefício nenhum. Dali a algum tempo, deveria se avaliar se aqueles que receberam benefícios ou serviços sociais essenciais, ou algum programa na área de segurança alimentar, estariam em melhores condições do que aqueles que não tinham recebido nenhum benefício ou serviço. Mas como replicar esse experimento no caso real, sem infringir em questões éticas, problemas operacionais de campo e possíveis questionamentos políticos. No caso do Bolsa Família, se poderia até conseguir fazer o que os randomistas chamavam de experimento natural, porque você tem uma fila de espera para acesso ao programa. Como o orçamento do programa é limitado, é possível fazer uma comparação entre os já beneficiados em relação aos que ainda não o são, mas estão na fila, com perfil semelhante. De certa forma, o problema ético-político estaria mais ou menos resolvido dessa forma para o Bolsa Família. Mas essa lógica de pesquisa é difícil de extrapolar para outras situações e programas. Vivenciei uma situação em que um desses organismos internacionais se dispunha a financiar um pacote de formação de recursos humanos na área do SUAS e na remodelagem dos equipamentos físicos desde que nos comprometêssemos a fazer uma avaliação quasi-experimental. A proposta do organismo internacional era a de criar um padrão Gold, SUAS Gold, CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Gold e testar o efeito do pacote infraestrutura + capacitação. Para testar isso, seria escolhido um CRAS em que o pessoal seria treinado, a edificação seria toda adequada e reformada. Propunham que esse CRAS-Gold fosse comparado com outros em outros municípios próximos ou no mesmo município. O CRAS-Padrão deveria ter equipamentos mantidos no mesmo nível de precariedade e sem necessariamente um programa de formação de funcionários. Eles queriam testar o efeito conjugado da qualificação dos serviços e edificação adequada para ver se esse pacote fazia diferença no SUAS. Para mim aquilo era um capricho metodológico que não fazia o menor sentido, típico de quem nunca operou programa público na vida real.
Passei por outras situações semelhantes na terceira rodada de avaliação de impacto do Bolsa Família. Havia sido feita uma avaliação, em 2005, depois, em 2009, e se pretendia fazer, em 2013, a terceira rodada de avaliação do Bolsa Família. Como Secretário de Avaliação tinha que fazer a interpretação do que era interessante avaliar junto ao Ministério e a percepção era a de que não faria sentido replicá-la. O Bolsa Família em 2013 já não era o que tinha sido avaliado em 2005 e 2009. Era um outro Bolsa Família, com uma nova estrutura de benefícios, com um conjunto de outros serviços conectados, porque essa era a essência do Brasil Sem Miséria. A proposta do programa passou a ser, na verdade, fazer com que um conjunto amplo de políticas públicas chegasse ao cidadão. Não faria sentido replicar as avaliações anteriores do Bolsa Família. Não havia mais o grupo Controle, porque a vasta maioria das pessoas que estava na fila do Bolsa Família já tinham ingressado no programa. Em 2004, o Bolsa Família saiu de quatro milhões de beneficiários para onze milhões em 2011.
Esses episódios me permitiram ver que havia algo mais que uma discussão de métodos. Eu achava que, em boa medida, era capricho metodológico de analistas que, tendo aprendido avaliação pelo manuais clássicos, nunca tiveram experiência concreta de operar programa público e enfrentar as questões éticas e políticas de propor, por exemplo, a separação de beneficiários e não beneficiários por meio de um sorteio. O problema é que isso era também propagado aqui no Brasil por alguns economistas, inclusive de universidades e órgão de pesquisa, de que esse era o “padrão ouro”, que era necessário replicar esse método na avaliação em política pública, como se estivesse testando vacina ou medicamento para mensurar sua eficácia. Desde 2012 fui colecionando uma série de embates nesse sentido, sempre mostrando que o importante era ter pesquisas mais adaptadas às perguntas avaliativas. A pergunta avaliativa precede o método, não o contrário. Levei tempo, mais recentemente publiquei um texto ensaístico no portal Terapia Política, em que aponta as limitações dos achados das pesquisas experimentais: é o texto que rememora as “Leis de Avaliação” de Peter Rossi. Não vai ter nenhum sucesso com boa parte dos econometristas e randomistas…
Uma das saídas para viabilizar pesquisas de grande cobertura foi continuar aprofundando a parceria com o IBGE. Precisávamos ter pesquisas nacionais que ajudassem o MDS a ter uma medida mais precisa do alcance de suas políticas. Naquela época, uma das discussões centrais era qual é o piso estatístico da pobreza em pesquisas domiciliares? Afinal, já havia o piso estatístico da subalimentação, que era 5%. Abaixo dessa cifra, especificado pela FAO – Food and Agriculture Organization – significa que um país reduziu a insegurança alimentar a um nível que pode sair do emblemático “Mapa da Fome”. Mas o que dizer da taxa de pobreza computada a partir da PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios? Um indicador abaixo do piso de 5% significaria a saída do Mapa da Pobreza? O Brasil já estava com uma taxa de extrema pobreza da ordem de 9% em 2009. O país estava crescendo, com emprego formal, ampliação da cobertura do Bolsa Família, da aposentadoria, do BPC – Benefício de Prestação Continuada – isso tudo estava levando à queda da taxa de pobreza. Mas qual era o piso estatístico ?
Essa pergunta orientou nossos pleitos para que o IBGE melhorasse a coleta das informações de rendimento no campo. Este foi um aprendizado importante que depois foi incorporado à própria Pnad contínua. Com a Cepal, produzimos um número especial da Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate, n.14, sobre “Medidas de Pobreza”, escrito por especialistas de longa data da instituição.
Foram anos de discussão metodológica e política muito interessantes. Sabíamos que o MDS era a vitrine e a vidraça, ao mesmo tempo. Os setores conservadores no Brasil tinham e têm muita resistência em relação às políticas sociais e ainda mais resistência às políticas sociais redistributivas. A grande imprensa criticava muito o Bolsa Família, o Fome Zero, depois as políticas de cotas. Diante dessa crítica, o governo tinha que produzir evidências, produzir pesquisas que contribuíssem para avaliar os efeitos de suas ações. A necessidade do MDS de fazer parcerias internacionais tinha muito a ver com isso, com emprestar a credibilidade dos organismos internacionais para convencer os setores conservadores do Brasil que não ser apenas o MDS que estava apontando a eficácia dos programas, mas os organismos internacionais também. Era o Banco Mundial que está mostrando que a pobreza caiu no Brasil. Era o PNUD e seus Relatórios de Desenvolvimento Humano que mostravam a originalidade e efetividade das políticas sociais. Era a FAO que publicou que o Brasil saiu do Mapa da Fome em 2014.
Na realidade, o Brasil já havia saído do Mapa da Fome pelo menos cinco anos antes. Nos estudos que fizemos para descobrir porquê o índice de subalimentação da FAO não havia caído, em 2012/13, para níveis abaixo de 5%, percebemos que seus técnicos não estavam usando adequadamente a Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF, de 2008/09. Conseguimos abrir um canal de conversa com os técnicos da FAO e colocá-los em discussão com técnicos do IBGE. Eles só fariam alguma atualização nos parâmetros de cálculo da medida de subalimentação se fossem convencidos pelo IBGE, já que a SAGI seria um interlocutor “interessado”. Felizmente, estávamos certos, e nas conversas técnicas com IBGE eles se convenceram. Incorporaram a informação sobre acesso à alimentação escolar nas escolas públicas, fizeram novos cálculos e chegaram às estimativas de que a subalimentação no Brasil estava abaixo de 5% já havia muito tempo. Mas foi só em 2014 que saiu o relatório dizendo que o Brasil tinha saído do Mapa da Fome.
Nesse e em outros episódios, fui percebendo que as discussões técnicas tinham componentes políticos muito sensíveis, especialmente os indicadores de pobreza e de segurança alimentar. Fui percebendo a visibilidade política dessas informações, dos indicadores, das pesquisas. Eram sempre embates intensos para conseguir convencer sobre a consistência e credibilidade dos resultados das pesquisas. Havia também, dentro do próprio Ministério, certo questionamento sobre a independência técnica da SAGI na condução das avaliações e na divulgação dos resultados. Felizmente, tive apoio tanto do Rômulo como da ministra Tereza Campello, na compreensão de que “se a SAGI não tiver independência técnica para divulgar os resultados de pesquisa, ninguém vai acreditar, quando a gente tiver notícias boas também”. O uso de avaliações com apoio de organismos multilaterais foi também importante nesse sentido, embora tivéssemos contenciosos anuais com o PNUD– Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na divulgação do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano pelo PNUD, o Brasil sempre tinha uma evolução muito incremental. Argumentávamos que eles estavam, como a FAO, usando dados defasados, ou, então, não estavam destacando os ganhos relativos à desigualdade e a pobreza, não captados pelo índice.
Esses embates sobre avaliação foram um aprendizado de políticas públicas. Passei a perceber que nos embates sobre resultados das avaliações não era exatamente uma discussão de métodos, de resultados, de diferentes metodologias. Na verdade, era uma disputa ideológica, uma disputa política sobre políticas públicas. Confesso que eu levei algum tempo para entender – curioso, eu já tinha mais de 50 anos ou próximo dos 50 anos, e não conhecia uma premissa básica – de que as políticas redistributivas sofrem muita resistência por parte dos setores conservadores. Isso me levou, anos depois do Golpe, a fazer uma Especialização no IESP – Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aprendi muito de políticas públicas no embate ou na convivência com os operadores das políticas, porque eu também ia a campo nas pesquisas de avaliação. Eu via as condições dos beneficiários. Era uma experiência muito interessante nesse sentido. Penso que uma parte muito importante da minha formação enquanto pesquisador se deu mesmo nessas experiências.
Maria Abreu (IPPUR): Mas o campo das políticas públicas não estava consolidado ainda, no Brasil. De uma certa forma, você é um dos pesquisadores que ajudaram a construí-lo, não?
Eu não estava acompanhando a formação dos cursos de gestão de políticas públicas dos anos 2000. Acho que é importante registrar isso, porque na Enap eu dava os cursos de indicadores e dava o curso de métodos, pesquisas aplicadas a avaliação de programas. Eu tinha muita interação com os gestores e aprendia muito com eles. Mas não participava da discussão mais substantiva sobre políticas públicas. Minha contribuição foi nessa área correlata.
Em 2015, fiz um curso de duas semanas no Canadá, no International Program on Development Evaluation (Programa Internacional sobre Avaliação do Desenvolvimento) e foi muito importante para que eu visse que nós, no Brasil, não estávamos longe da discussão mais atual sobre Avaliação. Eu fiquei surpreso com certas perguntas básicas que os participantes faziam. Foi dessa experiência que tive a coragem de escrever o livro “Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais”, baseado tanto na minha experiência de dez anos como professor, no IBGE e na ENAP e como Secretário da SAGI no MDS.
Depois que eu saí do MDS, voltei para o IBGE. Antes de voltar, tirei uma licença capacitação, juntando com férias, que totalizaram seis meses no Instituto de Ciência Política – IPOL, em Brasília, com o Paulo Calmon, e na ENAP. Ali tive aula com Luciana Jaccoud, Alexandre Gomide e Roberto Pires – colegas de trabalho que se tornaram meus professores -, para aprender o que eles tinham para nos colocar. Foi muito bom esse período de 2016. Depois, retomei minha trajetória, assumindo a disciplina de Políticas Públicas, Metodologia de Pesquisa e de Sistema de Informações na ENCE. Nesse período tive mais tempo para, de fato, aprofundar algumas leituras sobre avaliação. A partir da escrita do livro e desse tempo para estudar, tive mais condições de aprofundar minha formação mais ampla na área.
Atualmente, continuo na ENCE, agora como Coordenador-Geral. Márcio Pochmann, quando assumiu a presidência do IBGE, me convidou para dirigir a escola. Com esse convite, estou tentando manter as parcerias com o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas – NEPP e com a Universidade Federal de Goiás – UFG.
Maria Abreu (IPPUR): Você poderia falar um pouco mais detalhadamente sobre quais escolhas e decisões você considera hoje terem sido as mais importantes? Naquele momento em que você estava decidindo, como você salientou, você vai meio ali na tentativa e erro, meio de acordo com as circunstâncias. A despeito disso, vou lhe pedir para fazer uma reflexão: olhando para trás, quais decisões vocês consideram ter sido decisivas?
Paulo Jannuzzi: Acho que o fato de eu ter aberto mão de um salário seguro, uma carreira estável no mundo da informática em uma empresa multinacional, e resolver fazer o mestrado em Administração Pública, foi uma decisão muito importante. Também foi importante ter feito o concurso do Seade, assim como o concurso do IBGE. Uma decisão impactante foi ter aceitado o convite para trabalhar no MDS, pois foi um aprendizado muito grande. No fundo, todas as decisões foram oportunidades de aprendizado, de learning by doing, além do learning by reading, pelas indicações de colegas.
O doutorado na Unicamp foi também importante, mas foi muito mais continuidade de uma trajetória do que um ponto de inflexão. Ter participado da primeira turma da Especialização em Sociologia e Política do IESP também fez muita diferença para mim. Tive muitas disciplinas com vários professores, muita gente boa cobrando um nível de leitura alto. Foi ali que fiz leituras em Ciência Política, Filosofia Política, Sociologia, e sobre movimentos sociais. Tudo também abriu muito a minha perspectiva de compreender o que estava se passando no Brasil, e cruzei com outros autores e assuntos que, não fosse essa oportunidade, não teria conhecido. Tive contato com alguns autores como Nancy Fraser e Rawls, de quem eu sempre ouvia falar, mas nunca tinha tido a oportunidade de ler, e, por sua indicação, Maria, o Álvaro de Vita. Essas leituras foram muito boas, porque me ajudaram a decodificar a disputa política que estava acontecendo.
Maria Abreu (IPPUR): Em sua produção acadêmica, a partir de seu Lattes, por meio de publicações e orientações, um leque amplo de políticas públicas é abordado, mas é possível identificar dois eixos principais, o da avaliação e do “uso e abuso” de indicadores, do qual você, de uma certa forma, já falou ao abordar sua trajetória profissional; e o eixo que estrutura uma preocupação com os valores e o contexto em que as políticas públicas são avaliadas e monitoradas. Neste segundo eixo, você dialoga um pouco com a Marta Arretche, quando vocês enfatizam que o contexto importa. Na minha leitura, você puxa a preocupação sobre o contexto para o campo dos valores, não sei se estou correta. Você poderia falar um pouco se há uma diferença na perspectiva de abordagem em cada um desses eixos?
Paulo Jannuzzi: A preocupação com os valores veio porque eu estava no olho do furacão das disputas sobre a avaliação da eficiência ou eficácia das políticas públicas. Por exemplo, o dilema entre diminuir o Bolsa Família para corrigir inadequações em relação a que grupos estariam sendo incluídos, ou garantir que o programa continue sendo expandido, com correções durante o processo? Ou o dilema entre austeridade/responsabilidade fiscal, ou o compromisso público/responsabilidade social. Essas eram as disputas que eu tinha vivenciado lá em 2015/2016. Para mim foi muito importante, na formação adquirida na ENAP, em 2016, e depois nas leituras do IESP, a perspectiva neoinstitucionalista de interpretação das políticas públicas e dos fenômenos políticos. A partir dela, escrevi um texto sobre a importância o uso dos três “Is”- interesses, ideias e instituições¹– e do contexto regional de implementação como trabalho prévio na avaliação de programas.
A elaboração contida naquele artigo, relacionada com o contexto ideacional das políticas públicas, me permitiu lidar com a inquietação rememorada das ocasiões em que fomos demandados na SAGI para fazer simulações de um jeito ou de outro, dos impactos do aumento do valor do benefício do Bolsa Família, ou do aumento dos valores do Benefício de Prestação Continuada – BPC. Tinha visto no Seade a experiência de definir qualificação profissional, à luz também de oficinas, ouvindo a população. Eu tinha boas experiências que mostravam a importância do contexto na implementação dos programas, assim como dos atores e seus interesses. Passei a entender o que se passou em 2016. Programas públicos passaram a ser desmontados, talvez mais por suas virtudes, que pelos resultados das avaliações. Eficiência e qualidade do gasto passaram a contar mais que a efetividade e equidade..
Maria Abreu (IPPUR): Você atua em quantos e quais Programas de pós-graduação?
Paulo Jannuzzi: Dois. No Programa da ENCE e no Programa de Mestrado em Avaliação e Monitoramento da ENAP. Este é resultado de uma construção muito interessante, que tem a ver com as reflexões do pessoal da ENAP que estava lá de 2010 até 2016. Foi um programa que demorou para ser instituído, por conta dos problemas enfrentados naquele período.
Maria Abreu (IPPUR): Você poderia nos contar sobre sua atuação em cada um desses Programas e apontar quais os desafios da docência em cada um deles?
Paulo Jannuzzi: No caso da ENCE, trata-se de um Programa em População, Território e Estatísticas. Os alunos do Programa são mais novos e estão procurando uma formação básica em conceitos e métodos para análise da conjuntura ou das Políticas Públicas. Mas, em geral, alunos muito novos não têm muita experiência nisso. Há alunos do doutorado que já têm mais reflexão nesse sentido, e nesse programa eu dou aula de Políticas Públicas e de Metodologia de Pesquisa. São as duas disciplinas que eu assumi, deixando a disciplina de Sistema de Informações Geográficas e Estatísticas que eu dava anteriormente.
No outro programa, que é em Brasília, eu tenho que dar aulas à distância, – EAD. Em geral, dou uma disciplina: Tópicos de Avaliação. Penso que a grande diferença entre os dois Programas, é que, no caso da ENAP, os alunos são mais velhos e é um Mestrado Profissional. Os alunos já vêm mais maduros e com questões mais claras para pesquisar, além de ter uma motivação maior para fazer o trabalho e para estudar, ler e refletir. É diferente quando o aluno tem lá seus 20, 22, 24 anos para um aluno que tem 35, 37 anos, e que está ali liberado para estudo, por certo número de horas, e depois tem que fazer uma devolutiva para o Ministério de onde ele vem.
Eu acho que são duas propostas diferentes, uma proposta da ENCE mais ampla, em certo sentido, porque são muitos temas e alunos que vêm da Geografia, da Estatística e da Sociologia. Acho que eles saem do Programa com bom conhecimento instrumental daquilo que o Programa propõe, que é o acesso às pesquisas do IBGE. No caso da ENAP, o egresso sai com bom conhecimento instrumental também dos métodos e técnicas de avaliação de políticas públicas. Realmente são dois Programas de que eu gosto bastante.
Maria Abreu (IPPUR): Como você vê o pertencimento de sua pesquisa aos campos de conhecimento que se constituem no Brasil? Como você caracterizaria o estudo sobre as políticas públicas a partir da sua trajetória profissional, na intersecção entre a Demografia e o Campo de Públicas, que vem se constituindo recentemente como campo inter e multidisciplinar? Você tem participado tanto de encontros académicos da demografia, da Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP, como do Campo de Públicas. Aqui, estou incluindo o Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas – ENEPCP, o Encontro Brasileiro de Administração Pública – EBAP, o Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração – EnANPAD, você vê alguma diferenciação na sua contribuição para os dois Campos, considerando a Demografia e o Campo de Públicas?
Paulo Jannuzzi: Eu tive uma passagem também pelo Encontro Nacional da Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional – EnANPUR. Frequentei o EnANPUR porque realizei estudos de migração e redistribuição espacial da população, que me aproximava mais do planejamento urbano do que de temas como fecundidade, família e mortalidade.
Realmente gostava mais dessas discussões relacionadas aos determinantes econômicos e sociais da migração. Então isso fez com que me aproximasse da ANPUR. Acabei publicando duas vezes na revista da ANPUR, a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais.
Foi por meio do EnANPUR que eu conheci o Fabrício Leal, atual diretor do Ippur. Ele trabalhava na Prefeitura do Rio, no Instituto Pereira Passos, e se interessou por um trabalho que era de morfologia urbana, que eu tinha feito para São Paulo. Mas no início tinha feito projeções para São Paulo sobre a cidade chegar aos 20 milhões de habitantes. Na época, a Raquel Rolnik tinha me estimulado a fazer alguma reflexão nesse sentido. Eu sempre estive próximo dos urbanistas e do Planejamento Urbano, porque era uma discussão muito próxima da migração, do espaço urbano. Diria que fui saindo da Demografia, flertei com a área de Planejamento Urbano, mas depois, rapidamente acabei entrando nas políticas sociais. Passei a frequentar os fóruns da Administração Pública, primeiro o da ANPAD. Depois me aproximei da ANEPECP, por conexão ideológica e de perspectivas de visão de mundo partilhados por essa nova geração de pesquisadores nesse Campo e, em alguma medida, também na Sociedade Brasileira de Administração Pública – SBAP.
Maria Abreu (IPPUR): Em relação ao estudo das políticas públicas, o que você considera que diferencia o Campo de Públicas em relação aos Campos já constituídos da Administração Pública, da Demografia e do Planejamento Urbano e Regional?
Paulo Jannuzzi: Acho que o Campo de Públicas, ao menos em relação à Demografia, é muito mais plural, muito mais aberto a debate e mais progressista do que o campo da Demografia. Na Demografia, em geral, há uma leitura muito conservadora de processos, e essa talvez seja uma questão, de certa forma, geracional. O campo das políticas públicas é formado por uma comunidade epistêmica mais ampla e na qual você tem profissionais de diferentes áreas, cientistas políticos, demógrafos, estatísticas, assistentes sociais, sociólogos, economistas e administradores públicos.
Eu fui perdendo um pouco a interlocução de origem na Demografia. Em um dado momento eu fiz essa virada para o Campo de Públicas. Entre 2014 e 2016, eu percebi que perdi muito tempo com métodos estatísticos, para chegar à conclusão de que todo esse instrumental traz evidências, mas realmente o que me interessa são as explicações por trás disso.
Maria Abreu (IPPUR): Para finalizar, agora falando para os nossos estudantes, no estudo das políticas públicas, quais habilidades você identificaria como imprescindíveis para a pessoa que vai se dedicar a esse tema? E quais as habilidades que você considera desejáveis e quais as que podem se tornar um diferencial nos próximos anos?
Paulo Jannuzzi: A pessoa que entra no campo de públicas tem que acreditar que as políticas públicas são importantes. Digo isso porque no serviço público há muita gente que não acredita de fato que política pública é um imperativo civilizatório.
Acho que deve ser alguém que tem uma certa inquietação de uma vocação mesmo. Falo de vocação no sentido de querer dar alguma contribuição para transformar o mundo, da forma mais ativa que se pode fazer isso. Claro que é possível transformar o mundo de diversas maneiras. Penso que quem entra no campo de políticas públicas tem que partilhar de um certo conjunto de valores civilizatórios. Precisa acreditar nos primeiros artigos da Constituição. Acho que se a pessoa passar pelo sexto artigo da Constituição e acreditar no valor e factibilidade deles, já atende um requisito imprescindível para seguir na carreira pública. Se o indivíduo não se sentir confortável com a Constituição, se achar que a política pública é um mal necessário, talvez ele seja bom administrador de empresa, um bom gerente de banco, mas não um servidor ou pesquisador no campo das políticas públicas.
Em relação às habilidades desejáveis, eu acho que o futuro profissional tem de estar disposto a sempre aprender e a ler. Seja pela experiência prática, seja pelos livros, pelos clássicos. Acho que isso se aplica em qualquer profissão. Mas eu acho que, no caso das políticas públicas, a pessoa tem que estar preparada para ser desafiada nas suas certezas, para ter condições de ver aquela determinada problemática com outros olhos ou aceitar interagir com outros profissionais que têm visões diferentes. Na administração pública o profissional tem que saber ouvir, e refletir. Deve estar preparado para dialogar, para aprender, para viver num quadro de menos certezas do que em outras áreas. Persistência é uma qualidade importante. Depois dela, a flexibilidade, essa capacidade de enxergar as coisas de forma diferente. Penso que é importante a pessoa estar disposta a ter experiência prática concreta, botar o pé no chão, ver onde as pessoas estão vivendo, os efeitos ou não efeitos dos programas.
Participei do Censo Demográfico 1991 fazendo entrevistas. Acho que isso tudo contou muito na minha trajetória, assim como o fato de eu ter ido para o MDS, ou ter ido para o governo do estado de São Paulo. Essa vivência do cotidiano da operação da política pública fez muita diferença para entender melhor o país e conhecer, no fundo, a realidade em que se operam as políticas públicas. Um servidor público tem que sair do gabinete, botar o pé no barro. Inclusive, acho que tínhamos que fazer isso nos programas de pós-graduação. E é possível fazer na graduação, também. Pode ser muito interessante para os alunos conhecer uma escola rural, uma escola quilombola, uma escola na periferia. É preciso que os alunos entendam que por trás daquele indicador do censo escolar ou do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, as condições de como as pessoas vivem.
Acho que isso, talvez seja um outro requisito obrigatório também, que a pessoa tenha disponibilidade e coragem para vivenciar situações concretas por que passa a população. Sair do gabinete e do escritório e se dispor a ir lá na ponta para ver, ouvir, enfim, sentir os sentimentos públicos. Isto é importante e faz diferença na trajetória das pessoas.
Maria Abreu (IPPUR): Obrigada, Paulo, pelo seu tempo e pelas respostas.
¹ Artigo disponível em: https://rbaval.org.br/article/doi/10.4322/rbaval202211037



